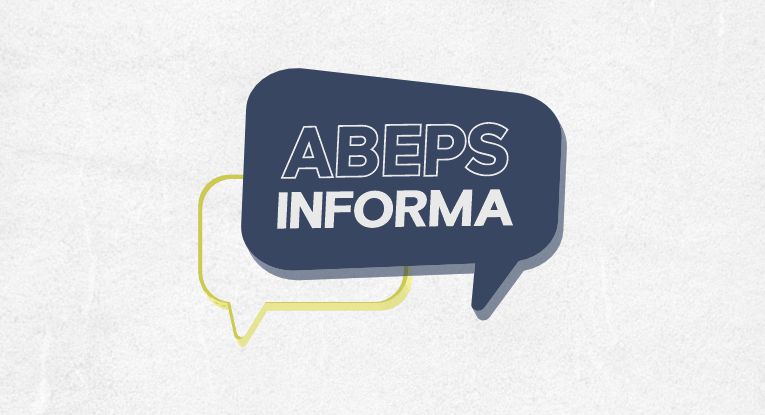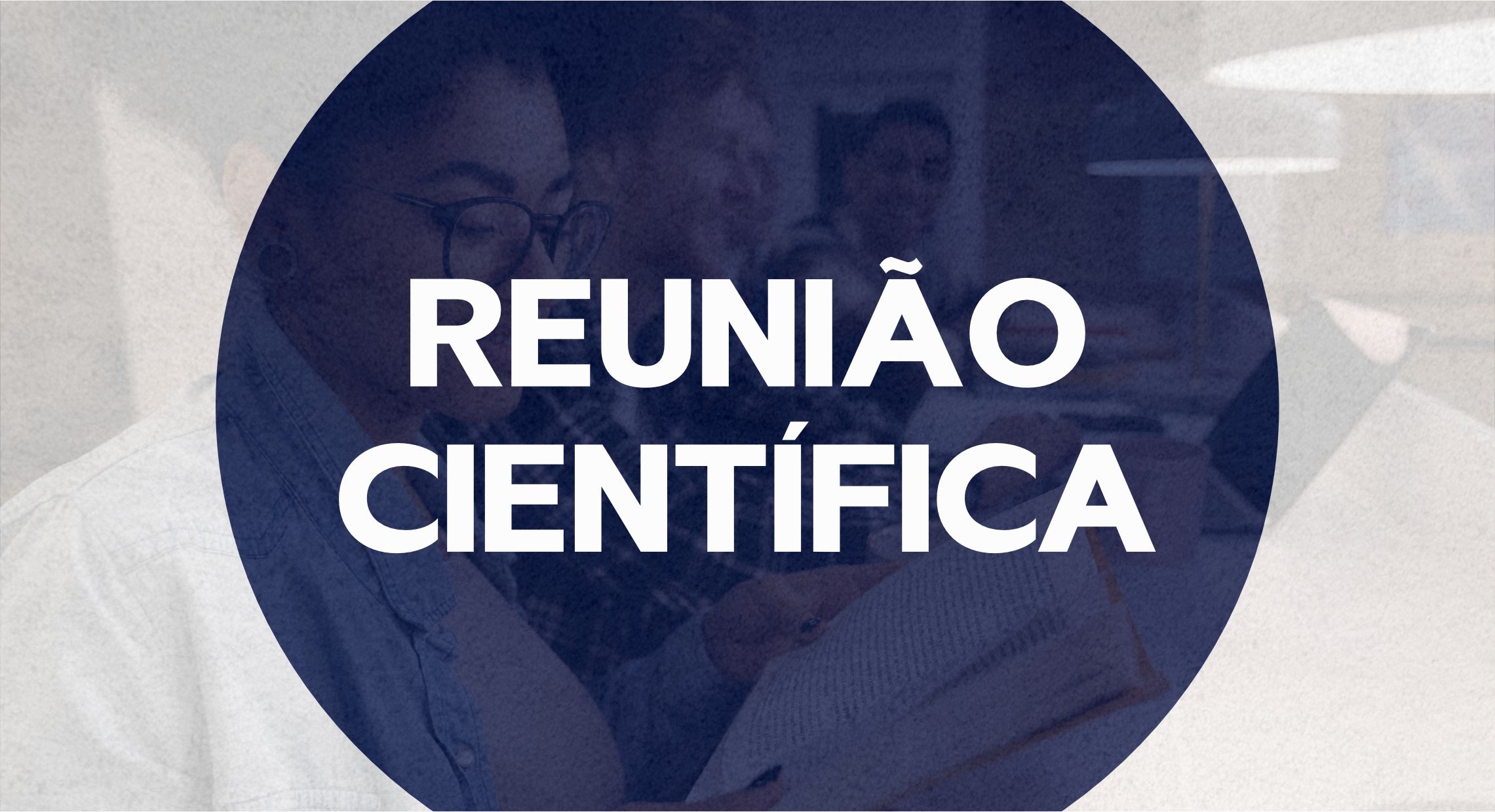No mês de agosto, a série de entrevistas “Somos ABEPS” conversa com a psiquiatra Alexandrina Meleiro (@draalexandrinameleiro), 71 anos, uma paulistana apaixonada pelo agito e pela riqueza cultural de São Paulo — sua cidade natal, da qual afirma não querer sair.
“Minha origem é entre o bacalhau e o coco, o que dá um bom prato!”, brinca Alexandrina, ao falar sobre o fato de ser filha de uma imigrante portuguesa, que fugiu da guerra, e de um brasileiro nascido no interior da Bahia.
Autora de diversos livros e referência na área de Psiquiatria e prevenção do suicídio, ela atua como psiquiatra clínica e conta — sempre com leveza — que foi uma experiência familiar que a levou a escolher essa especialidade. Alexandrina também revela que fez do próprio diagnóstico de bipolaridade uma ferramenta para compreender melhor seus pacientes.
Ao compartilhar trajetórias, experiências profissionais e projetos desenvolvidos em diversas regiões do país, a ABEPS busca fortalecer vínculos internos e reconhecer o papel de cada associado na promoção do cuidado, da pesquisa e da prevenção do suicídio.
Confira a íntegra da entrevista!
ABEPS – Como surgiu o seu interesse pela profissão?
Alexandrina – Quando eu era pequena, dizia que queria ser professora. Com o passar dos anos, acompanhei de perto o cuidado da minha mãe com três familiares com transtorno bipolar que, em momentos de crise, ficavam temporariamente na nossa casa.
Convivi muito de perto com esses três tios e fui me familiarizando com a doença psiquiátrica. Foi então que passei a querer fazer Medicina — mas não qualquer especialidade, eu queria fazer Psiquiatria. Eu queria ser psiquiatra! Entrei na faculdade e, logo no início, prestei um concurso interno de monitoria. Passei e fui monitora do nosso professor titular por três anos. Até hoje sou apaixonada pela área que escolhi e a escolheria novamente.
Alguém na sua família era da área da saúde ou da Medicina?
Não. Eu fui a primeira médica da família. Minha família é de origem muito humilde. Minha mãe veio fugida da guerra [Segunda Guerra Mundial] com a minha avó, enquanto meu avô já estava no Brasil. Minha avó chegou com três filhas e minha mãe estudou apenas até o terceiro ano primário, equivalente ao ensino fundamental.
Meu pai, no interior da Bahia, ficou órfão muito cedo. O pai dele tinha um quadro grave de alcoolismo, desenvolveu delírio de ciúmes alcoólico e matou minha avó — que tinha o meu nome. Meu nome, Alexandrina, é uma homenagem à minha avó paterna.
Ele foi criado por vários tios e, depois, veio para São Paulo em busca de oportunidades. Não teve estudo formal e era analfabeto. Mas tanto minha mãe quanto meu pai foram guerreiros, lutadores, e, graças a esse esforço, formaram os quatro filhos — eu e mais três irmãos — todos com curso superior.
O que mais lhe traz realização na sua profissão?
Poder ajudar as pessoas diante de seu sofrimento — seja em casos de depressão, crises de pânico, transtorno bipolar, esquizofrenia, dependência de álcool ou até impulsos ligados a jogos. É gratificante fazer a diferença na vida de alguém. Ao longo do tempo, isso tem me trazido grande satisfação.
Como surgiu a sua relação com a prevenção do suicídio?
Quando fui fazer minha tese de doutorado, escolhi estudar uma população muito particular: os próprios médicos. Minha tese abordou o médico como paciente. Ao pesquisar esse público, um dado que surgiu — e infelizmente persiste até hoje — foi a questão do suicídio entre médicos. Assim, ao estudar os médicos, acabei estudando o suicídio e, com o tempo, tornei-me referência nesse tema.
Como surgiu a sua relação com a ABEPS?
Como eu já estudava e era conhecida na área de suicídio, alguns colegas que fundaram a ABEPS me convidaram para participar. A Associação ainda era bem pequena, tinha poucos dias de existência, e fui chamada para colaborar e fortalecer o trabalho dentro da ABEPS.
A ABEPS é de grande relevância porque tudo o que se fala, publica e divulga é sempre pautado por assuntos pertinentes e com alto rigor científico. A Associação, representada por diversos de seus membros, participa de simpósios internacionais, palestras e processos de tomada de decisão. Isso reforça o quanto é fundamental a existência de uma entidade como a Associação Brasileira de Estudos e Prevenção do Suicídio.
Na sua avaliação, a discussão sobre prevenção do suicídio mudou nos últimos anos?
Hoje há muito mais informação — e de qualidade — que alerta as pessoas a vencer o estigma e o preconceito, e a procurar ajuda. Mas algo não mudou: nem sempre o acesso ao tratamento é fácil. Seja para encontrar um psicólogo ou psiquiatra, seja para conseguir a medicação, ou até, em casos mais graves, garantir uma vaga para internação quando há necessidade temporária, muitas vezes esse suporte não está disponível. E isso é essencial em casos críticos relacionados ao suicídio.
Se falarmos de conhecimento, aí sim houve bastante evolução. Há mais esclarecimento e até uma quebra do estigma e do preconceito em falar sobre doença mental. A pandemia acabou autorizando as pessoas a assumirem mais o seu lado emocional. Lembro-me da ginasta Simone Biles, que interrompeu sua participação nas Olimpíadas porque não estava bem. Muitas vezes, repito em palestras e aulas uma frase que ela disse: “Tudo bem não estar bem.”
Ainda existe resistência, ou até receio, por parte dos profissionais da área de saúde em falar sobre suicídio?
Existe, sim. Muitos profissionais negam a situação. Frequentemente, quando dou palestras ou aulas, pergunto: “Quem aqui já teve contato com alguém que se suicidou? Alguém na família?” A maioria levanta a mão. O suicídio está muito presente na vida das pessoas. Por mais que queiram negar, não há como — porque, cedo ou tarde, ele bate à porta.
As pessoas têm essa tendência à negação, mas conseguimos mostrar que é um tema importante. E eu tenho um jeito próprio de abordar o assunto, de forma que não fique pesado. As pessoas saem das minhas palestras com leveza, percebendo que existem razões para viver, e não apenas pensando nas tragédias das perdas.
Que mensagem a senhora deixa para os profissionais da área de saúde?
Todas as pessoas que lidam com seres humanos, que podem estar emocional ou mentalmente adoecidos, precisam ter respaldo. Essa respaldo envolve treinamento e conhecimento sobre o assunto.
Quando adquirimos conhecimento, reduzimos o estigma e o preconceito, e aumentamos as possibilidades de ajudar os outros e a nós mesmos. Isso fortalece a resiliência, a capacidade de enfrentamento e o olhar mais atento. É pensar: “Eu tenho um problema, sim, mas também posso buscar soluções e não ficar preso apenas ao problema.”
Todas as áreas — professores, vizinhos, pais, mães, irmãos — precisam conhecer o tema. É fundamental quebrar todas as barreiras, e esse é um trabalho de muitas mãos que precisamos assumir.
E que mensagem a senhora deixa para as pessoas que, neste momento, talvez estejam confusas, envergonhadas ou com receio de procurar ajuda?
O grande recado é esse: procure ajuda. Deixe o orgulho, a vergonha, o preconceito de lado e procure ajuda. Aceite ser tratado. Esse recado é importante para que as pessoas quebrem todos os obstáculos, quebrem as barreiras para que elas possam ter ajuda. Uma vez tendo ajuda, as pessoas vão mudar de posição, e ter motivo para viver.
O bem maior que nós temos é a vida. O problema é que nós estamos numa era de tudo muito líquido, tudo muito rápido e até a vida passa rápido. A gente passa a não valorizar. A gente tem que começar a reforçar que o bem precioso é a vida. E aí nós temos que achar razões para viver, e não motivos para morrer. Razões para viver!
Há algo mais que a senhora gostaria de comentar nesta entrevista?
Parece que eu tenho transtorno bipolar? Não, né? (risos) Lembra que contei que escolhi Medicina porque tinha três tios maternos com transtorno bipolar? No quarto ano da faculdade de Medicina, tive meu primeiro episódio de depressão. Depois disso, tive outras depressões e episódios de euforia, o que caracteriza o transtorno bipolar tipo 1. Sempre digo, em palestras e aulas, que “louco” tratado é uma pessoa normal.
Mesmo convivendo com a doença desde o quarto ano, segui as orientações dos meus professores e iniciei terapia. Fiz psicanálise quatro vezes por semana, por muitos anos.
Com isso, eu consigo entender bem a população que me procura para ajuda. Porque eu sei o que é depressão, eu sei o que é euforia, eu sei o que é ter um parafuso complicadinho. Isso me ajuda muito a entender o próximo.
- Acompanhe Alexandrina Meleiro no Instagram: @draalexandrinameleiro
Assessoria de Comunicação da ABEPS